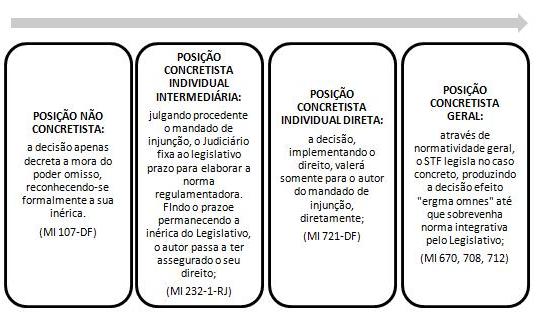A dica desse sábado é o resumo do livro A Constituinte Burguesa, feita por Rafael Cataneo Becker, bem como link para download da versão em espanhol do livro.
----
Capítulo I
O Terceiro Estado é uma nação completa
Nação é ‘’um corpo de associados que vivem sob uma lei comum e representados pela mesma legislatura’’. (p.56). Para a subsistência e prosperidade de uma nação, duas coisas são necessárias: trabalhos particulares e funções públicas.
Resumem-se os trabalhos particulares em quatro classes: 1) trabalho no campo, fornecedor de matéria-prima; 2) indústria, que trabalha matéria-prima; 3) comerciantes e negociantes, que estabelecem relações entre as fases produtivas e entre a produção e o consumo; 4) serviços, desde profissões científicas, liberais, até serviços domésticos. Pelas funções públicas, os quadros de uma nação se completam. São, na época de Sieyès, ajuntadas em quatro: a Espada, a Toga, a Igreja e a Administração.
A nobreza – e o clero – detém o monopólio político. Possui representação própria e fundamentalmente diferenciada, cujos apontamentos se fazem em prol de interesses particulares – de muito poucos – contra o interesse comum. Todos os postos lucrativos e honoríficos são ocupados por privilégio. Diz-se, do privilégio, um direito de classe. Ociosidade infértil, exceção e abuso envolvem cidadãos que, à parte de todo o movimento social, gozam da melhor parte advinda dos esforços, sem em nada contribuir. Conclui-se, pois, em função da manutenção de um aparato político defensor de interesses próprios, do acúmulo de privilégios e honras restritos somente a ela, e do deslocamento no processo produtivo social como em geral, que a nobreza, se chega a formar uma nação, não faz parte, certamente da grande nação.
Todas as atividades particulares além da imensa maioria dos cargos públicos – nos que se acumula trabalho, não regalias – são preenchidos pelo Terceiro Estado. Impugnando-se a ele, a casta nobre comete um crime social em nome de um monopólio que somente faz deteriorar a coisa pública. O afastamento da livre concorrência produz obras mal feitas e de custo mais alto. Assim, o Terceiro Estado tem o que é preciso para ser uma nação completa. Ele é tudo, mas um tudo ‘’entravado e oprimido’’. (p.55).
Capítulo II
O que o Terceiro Estado tem sido até agora?
Nada
No Antigo Regime, há os Estados Gerais, que representam o reino diante do rei. Três estados o compõe, deliberam separadamente e votam por ordem: o clero, a nobreza e o Terceiro Estado. Essa mais alta organização, como falsa intérprete da vontade geral, detém o poder legislativo. Contudo, não passa ela de uma assembléia clerical, nobiliárquica e judicial. Existe uma tripla aristocracia: da Igreja, da Espada e da Toga. É um erro enorme acreditar que a França submete-se a uma monarquia. Salvo pequenos momentos, sua história pressuposta monárquica se confunde com uma história áulica. É a corte quem define parâmetros administrativos e políticos de como manipular a coisa pública.
A liberdade não vem por privilégios, mas sim por direitos comuns. Todo privilégio se opõe ao direito comum. ‘’É preciso entender como Terceiro Estado o conjunto dos cidadãos que pertencem à ordem comum’’. (p.58). Em seu seio, todavia, destacam-se novos nobres, terceiro-estadistas que são enobrecidos ou privilegiados a termo – um indivíduo conquista o título e pode transmiti-lo até dada geração –. Aos olhos da lei, de qualquer forma, todos os nobres são iguais e encerram os mesmos privilégios. Deixam os novos nobres, portanto, de engendrar-se ao Terceiro Estado, saindo da ordem comum, quando o problema é que justamente eles é que o representam nos Estados Gerais. ‘’Resumindo, o Terceiro Estado não teve, até agora, verdadeiros representantes nos Estados Gerais. Desse modo, seus direitos políticos são nulos’’. (p.61).
Capítulo III
O que pede o Terceiro Estado?
Ser alguma coisa
Petições foram dirigidas pelas municipalidades ao governo requerendo influência igual à dos privilegiados. Pedem, basicamente, ter representantes oriundos verdadeiramente do Terceiro Estado nos Estados Gerais, igualar o seu número de representantes ao da outras duas ordens juntas e substituir o voto por ordem pelo voto por cabeça.
Tais pedidos, numa visão antecipadora, gerariam uma igualdade deturpada. Pois, ‘’como não temer que as qualidades mais apropriadas à defesa do interesse nacional sejam prostituídas diante dos prejuízos’’ (p.65) e como evitar que os maiores defensores da aristocracia partam ironicamente do próprio Terceiro Estado, de membros prostrados diante de benefícios?
‘’Quanto mais se pensa neste assunto, mais se percebe a insuficiência das três demandas do Terceiro Estado. Mas, enfim, tais como são, foram fortemente atacadas. Examinaremos estas demandas e os pretextos desta hostilidade’’. (p.65).
I. Primeira Petição
Que os representantes do Terceiro Estado sejam escolhidos apenas entre os cidadãos que realmente pertençam ao Terceiro Estado.
‘’Não pode haver em gênero algum uma liberdade ou um direito sem limites’’. (p.68). Nesse sentido, e por outro lado, é preciso salvaguardar a liberdade dos comitentes terceiro-estadistas, ‘’e, por isso mesmo, é necessário excluir de sua eleição todos os privilegiados, acostumados por demais a dominar o povo’’. (p.68). No que tange à elegibilidade dos representantes do terceiro estado, a idoneidade deve ser o primeiro item da personalidade e da posição social a ser inferido, de modo a transparecer seu interesse unicamente pela nação, pelo Terceiro Estado. Exclui-se dos elegíveis uma série de categorias: indivíduos de pouca idade, mulheres, vagabundos, estrangeiros e todos aqueles que podem apresentar influência presumida por parte das outras duas ordens dos Estados Gerais, como empregados domésticos, qualquer indivíduo submisso, funcionários administrativos e fazendeiros. Interessante apontar que, dentro do Terceiro Estado, existe um estrato, por assim dizer, significativamente interessante para exercer tal representação com competência. Tratam-se das classes disponíveis, as assim chamadas aquelas cujos homens recebem educação liberal e exercitar a razão. Tais classes têm o mesmo interesse do povo.
II. Segunda Petição
Que seus deputados sejam em número igual ao da nobreza e do clero.
Se forem admitidos princípios reguladores da proporção representativa nos Estados Gerais, tem-se que, por qualquer um deles, seja contribuição em impostos, seja em tamanho de população, o Terceiro Estado toma a dianteira.
III. Terceira Petição
Que os Estados Gerais votem não por ordens, mas por cabeças.
Seria ideal que os representantes pudessem unir-se numa totalidade sob um interesse comum. Mas, não é o que ocorre. Sem o voto por cabeças a França estaria exposta a ‘’desconhecer a verdadeira maioria, o que seria o pior dos inconvenientes, porque a lei seria radicalmente nula’’. (p.75).
Capítulo IV
O que tentaram fazer pelo Terceiro Estado
As propostas do governo e dos privilegiados
I. Assembléias provinciais
Houve, por parte do governo, uma proposta de formulação das Assembléias Provinciais por critério não pessoal – segundo ordens –, mas sim por critério real, de acordo com a propriedade de cada cidadão. Seria em número de quatro as propriedades: as senhoriais e as ordinárias, sendo as últimas divididas em três: do clero, do campo e da cidade. À exceção da propriedade do clero, as outras três poderiam ter como proprietários homens de qualquer ordem, fossem sacerdotes, plebeus ou nobres. ‘’Elas eram interessantes devido a seu objeto, e ainda mais importantes pela maneira como se formariam, já que por elas se estabelecia uma verdadeira representação nacional’’. (p.78). Contudo, por fim, vingou a típica divisão por ordens pessoais, ao que, como contraponto, aprovou-se o mesmo número de representantes entre clero e nobreza juntos contra o do Terceiro Estado, o que foi simples enganação, nomeando-se deputados para este entre os privilegiados.
II. Os notáveis
É possibilidade do rei a convocação de um grupo de consultores, os notáveis, para que lhe falem sobre os interesses da nação e do trono. Quando de sua seleção, porém, ao invés de privilegiados ‘’em luzes’’, compareceram privilegiados no sentido corrente do termo. E, assim, ‘’homens muito bem colocados e com possibilidade de ditar a uma grande nação o que é justo, belo e bom, preferem prostituir esta ocasião única por um mísero interesse pessoal’’. (p.80).
III. Os escritores patriotas das ordens privilegiadas
Sieyès é dúbio ao falar sobre o tema. Depois de colocar que o silêncio do Terceiro Estado é fruto amargo de sua verdadeira repressão, diz que não lhe surpreende o fato de que os primeiros defensores de demandas sociais venham das duas primeiras ordens. ‘’Se a nação consegue a liberdade, vai, sem dúvida, conhecer estes autores patriotas das duas primeiras ordens, pois, sendo os primeiros a abjurar velhos erros, preferiram os princípios da justiça social universal às combinações criminosas do interesse pessoal contra o interesse nacional’’. (p.80). Apesar dessa ironia subentendida, coloca mesmo que o ‘’império da razão se estende cada dia mais; exige, cada vez mais, a restituição dos direitos usurpados. Mais cedo ou mais tarde, vai ser preciso que todas as classes se contenham nos limites do contrato social’’. (p.81).
IV. A promessa da igualdade de impostos
Tradicionalmente, o Terceiro Estado sempre suportou uma carga tributária mais pesada que a da outras ordens, mas a nobreza vai passar a pagar o mesmo. Não por generosidade, mas por dever. E é possível abstrair dessa mudança uma grande ilusão que os privilegiados sustentam nas palavras de que, uma vez abolidas as isenções pecuniárias, tudo estaria igual entre as ordens. Pelo contrário, tal ato demonstra uma tentativa de distrair o Terceiro Estado do que precisa, em verdade, ser feito: a reforma contra sua nulidade política nos Estados Gerais.
V. A proposta intermediária dos amigos comuns dos privilegiados e do ministério
Há uma proposta de tornar a votação dos subsídios e de qualquer matéria referente a impostos realizada pelo procedimento por cabeça. Isso não é suficiente. ‘’Como o voto dos subsídios deve ser a última operação dos Estados Gerais, será preciso que tenham concordado de antemão sobre uma forma geral para todas as deliberações’’. (p.85. Ênfase acrescida).
VI. A proposta de imitação da Constituição Inglesa
Foi dado pelo tempo uma divisão partidária na nobreza. Famílias mais ‘’ilustres’’ almejam o estabelecimento de uma câmara alta, como há na Inglaterra. Por isso seria enviado à câmara dos comuns o restante da nobreza. Isso não é concordável. ‘’Desse modo, se se quiser reunir, na França, as três ordens numa só, deve-se começar pela abolição de qualquer privilégio’’. (p.86).
VII. O espírito de imitação não é adequado para bem nos conduzir
Não é de se surpreender que a França, que recém abriu os olhos ‘’para a luz’’, volte-se para adular uma Constituição vizinha. No entanto, a forma constitucional na Inglaterra é mais uma preocupação contra a desordem que a busca de uma ordem, é incompleta e não deve ser adaptada à França. ‘’Mas, finalmente, por que vemos invejamos a Constituição inglesa? Porque, aparentemente, ela se aproxima dos bons princípios do estado social. Ela é um modelo do belo e do bom para julgar os progressos em qualquer gênero’’. (p.89).
Capítulo V
O que deveria ter sido feito
Os princípios fundamentais
Deve-se partir dos bons princípios e da moral. Na análise das sociedades políticas, formadas por associação legítima, ou seja, voluntária e livre, destacam-se três épocas. Na primeira, um número considerável de indivíduos, pelo jogo de seus interesses individuais, forma uma nação, no caso, também chamada associação. Na segunda, a união toma consistência elevando-se uma idéia de vontade comum e de poder público. A vontade individual está na origem de tudo, mas separada em fragmentos tem poder nulo, do que surge a necessidade da idéia de algo comum. Por fim, na terceira, em decorrência do aumento de indivíduos e de sua dispersão para exercer essa vontade comum, há a confiança da vontade nacional a um governo. Resumindo, a primeira está para a vontade individual, a segunda está para a vontade comum e a terceira está para a vontade comum representativa.
Por vontade comum, Sieyès compreende a noção de maioria. ‘’As vontades individuais são os únicos elementos da vontade comum’’. (p.101). ‘’Se abandonarmos esta evidência – que a vontade comum é a opinião da maioria e não a da minoria – é inútil falar de razão’’. (p.101).
Cabe uma descrição melhor da representatividade da última espécie de sociedade política. Ela tem duas características básicas: competência para atingir o fim que lhe é proposta e impotência para dele se separar, bem como das formas e leis que lhe são designadas. Pois, é ‘’impossível criar um corpo [governo] para um determinado fim sem dar-lhe uma organização, formas e leis próprias para que preencha as funções às quais quisemos destiná-lo. Isso é o que chamamos a constituição desse corpo’’. (p.93).
Antes de tudo, como origem de tudo, está a nação. Acima dela, somente paira o direito natural. Dela emana toda a série de leis positivas. Dentre estas, em primeira linha, estão as leis constitucionais, que se dividem em duas partes: uma referente ao corpo legislativo e outra referente aos demais corpos ativos, em tudo o que concerne à organização e à função dos mesmos corpos. Leis constitucionais são leis fundamentais, pois jamais derivam ou se alteram do e pelo poder constituído, somente do e pelo poder constituinte. Já na segunda linha de leis positivas, aparecem as que são formadas pelo corpo legislativo sob a égide das condições constitutivas. ‘’Mesmo quando só apresentamos estas últimas leis em segunda linha, elas são as mais importantes, são o fim do que as leis constitucionais são apenas o meio’’. (p.95).
‘’A nação se forma unicamente pelo direito natural. O governo, ao contrário, só se regula pelo direito positivo’’. (p.95). ‘’O poder só exerce um poder real enquanto é constitucional. Só é legal enquanto é fiel às leis que foram impostas. A vontade nacional, ao contrário, só precisa de sua realidade para ser sempre legal: ela é a origem de toda legalidade. Não só a nação não está submetida a uma Constituição, como ela não pode estar, ela não deve estar, o que equivale a dizer que ela não está’’. (p.95). Frente a uma Constituição, o interesse geral não pode se alienar o direito de mudá-la, sobretudo deve se fazer valer e adequá-la tanto que necessário se lhe apresentar: ‘’uma nação é independente de qualquer formalização positiva, basta que sua vontade apareça para que todo direito político cesse, como se estivesse diante da fonte e do mestre supremo de todo o direito positivo’’. (p.96). ‘’Qualquer que seja a forma que a nação quiser, basta que ela queira; todas as formas são boas, e sua vontade é sempre a lei suprema’’. (p.96).
Uma nação pode ter dois tipos de representantes. Os ordinários se limitam ao que é definido constitucionalmente. Já os extraordinários, não. Formando assembléia, compõem poder constituinte. Tal poder deve ter em conta que é uma comissão de uma nação e, portanto, deve respeitar e buscar tudo quanto for matéria de vontade comum. Tendo isso por base, delibera e regulamenta uma Constituição.
O impulso constitucional é essencial à ordem social, a qual não seria completa sem regras de conduta suficientes para abarcar e resolver todo e qualquer caso. Como, nesse sentido, consultar a nação para eventuais alterações constitucionais? Por intermédio de um método incorporativo que se inicia na formação de pequenas circunscrições que formariam províncias que, por sua vez, enviariam à metrópole os verdadeiros representantes extraordinários com poder constituinte, despidos de qualquer ordem social. E quem poderia convocar a nação para uma consulta desse gênero? Isso é, na verdade, dever de todos, podendo partir do legislativo, ou do executivo ou de qualquer outra fonte.
Retomando a situação da França no período, os Estados Gerais são poder constituído e, como tal, não podem fazer alterações constitucionais. Isso sem falar na discussão entre o comportar ou não comportar a nação francesa uma Constituição. Alguns dizem que sim, outros afirmam que não. O que deveria ter sido feito, pergunta do capítulo, é simplesmente a convocação da nação para o envio de representantes extraordinários para uma reformulação – ou criação – constitucional. E é importante saber disso para saber o que pode ser feito no futuro.
Além de tudo, é interessante colocar que, para Sieyès, as nações entre si estão em estado de natureza.
Capítulo VI
O que falta fazer
A execução dos princípios
Soerguendo o Terceiro Estado estão a razão, a justiça, seus conhecimentos e sua coragem. Omitir-se à restauração nacional significaria ser condizente com a perpetuação dos privilégios. ‘’Antigamente, o Terceiro Estado era servo, a ordem nobre era tudo. Hoje, o Terceiro Estado é tudo, a nobreza não passa de uma palavra’’. (p.108).
Para a aquisição de seus direitos políticos – e eles são essenciais por resguardarem os direitos civis e da liberdade individual –, o Terceiro Estado pode se valer de dois meios. Pelo primeiro, seria formada uma assembléia nacional, em detrimento dos Estados Gerais. Como se admite a existência de três ordens, conclui-se que, delas, não pode concorrer uma única nação, uma única vontade e uma única representação. ‘’É evidente que os deputados do clero e da nobreza não são representantes da nação; são, pois, incompetentes para votar por ela’’. (p.110). Nos Estados Gerais, no voto por ordem haveria claramente a possibilidade de veto dos anseios do Terceiro Estado, enquanto que, no voto por cabeças, as vontades de duzentas mil cabeças poderão contrabalançar a vontade de vinte e cinco milhões. ‘’Tudo isso já é suficiente para demonstrar o direito que tem o Terceiro Estado de formar sozinho uma Assembléia Nacional, e para autorizar por força da razão e da equidade, a sua pretensão legítima de deliberar e de votar por toda a nação, sem exceção’’. (p.11). Já pelo segundo meio de conquistar seus direitos, o Terceiro Estado suspenderia o exercício de seu poder até a nação julgar a divisão das três ordens e os rumos adequados para dar término à dissensão e outros problemas.
Capítulo VII
A Assembléia Nacional
Três espécies de interesse há no coração dos homens: 1) interesse comum; 2) interesse do corpo – corporativo, associado sempre à conotação negativa da aristocracia –; 3) interesse pessoal. Por sua vez, a Assembléia Nacional, como instrumento erigido por representantes da nação, deverá em tudo buscar comprometimento com o que é de interesse comum. Deve banir as corporações e se abster dos interesses pessoais. Derivará, por conseguinte, dela, uma série de direitos comuns de que são banidos todos os privilégios. ‘’Entendo por privilegiado todo homem que sai do direito comum, porque não pretende estar completamente submetido à lei comum, ou porque pretende direitos exclusivos’’. (p.119). Privilegiados não podem ser nem eleitores nem elegíveis, constatando-se ‘’que o direito de fazer-se representar só pertence aos cidadãos por causa das qualidades que lhes são comuns e não devido àquelas que os diferenciam’’. (p.118). Ademais, o corpo de representantes deve ser renovado em um terço todo ano.
Importantíssimo ressaltar que, toda vantagem acumulada por um cidadão, seja em propriedade, seja em indústria, contanto que não atinja a lei, deve ser protegida.
Crítica
A vontade comum, em Sieyès, antítese do pensamento de Rousseau, além de ser a soma das vontades individuais, assume majoritariamente um compromisso de, precisamente, resguardá-las. ‘’As pessoas se dizem: ao abrigo da segurança comum, poderei me entregar tranquilamente a meus projetos pessoais, irei atrás da minha felicidade como quiser, certo de só encontrar como limites legais aqueles que a sociedade me prescreve pelo interesse comum em que tomo parte e com o qual meu interesse particular fez uma aliança tão útil’’. (p.115). Proteção máxima a tudo que é de pecuniário é explícita: ‘’Tudo o que pertence aos cidadãos, repito, mais uma vez, vantagens comuns, vantagens particulares, contanto que não atinjam a lei, tem direito à proteção’’. (p.119).
Ao defender o plano das Assembléias Provinciais, apóia a idéia de divisão real – fundada na propriedade – contra a divisão pessoal – seguindo ordens -: ‘’Elas [Assembléias] eram interessantes devido a seu objeto, e ainda mais importantes pela maneira como se formariam, já que por elas se estabelecia uma verdadeira representação nacional’’. (p.78).
Durante a apresentação da primeira petição do Terceiro Estado, em matéria de representação política, Sieyès aponta um estrato do mesmo especialmente interessante no que poderia vir a servir para sua representação efetiva. Tratam-se das classes disponíveis cujos homens recebem educação liberal e exercitam a razão, tendo o mesmo interesse do povo.
Ora, por seu apoio à soma das vontades individuais, sua preservação e seu acúmulo de vantagens – em tudo que não fira as leis de todos –; pela manifesta preferência da divisão real – atentando-se ao termo utilizado, ‘’real’’ – em vez da divisão pessoal; e pela referência às classes disponíveis, claramente um grupo já seleto no seio do próprio Terceiro Estado; conferem as proposições de Sieyès, na figura de um autor nacionalista, não passar de uma enorme maquiagem. Revestido de uma pretensão de interesses, direitos e representação comuns baseado nos quais ataca veementemente a aristocracia e o clero, seu discurso revela-se, ao final, como uma grande apologia ao liberalismo e ao fortalecimento e emancipação não do Terceiro Estado como um todo orgânico, mas sim de uma proto-burguesia que viria, após a Revolução Francesa, a utilizar-se da política e da economia como instrumentos de exploração, causando, ironicamente, uma situação se não pior, da mesma proporção em danos sociais em comparação ao famigerado sistema feudal.
*Acadêmico de Direito na UFSC
BECKER, Rafael. A Constituinte Burguesa - Sieyès. Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 21 Mai. 2008. Disponível em: www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/resumos/teoria-constitucional/46. Acesso em: 23 Ago. 2011